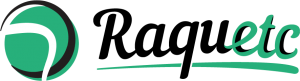211 dias depois, a espera terminou: o US Open começa esta segunda-feira e coloca um ponto final numa espera prolongada e, acima de tudo, muito sofrida. Foram mais de cinco meses sem ténis internacional e mais de seis sem torneios do Grand Slam e o resultado é uma edição única, no mínimo peculiar e muito imprevisível — mas que não perde créditos: quando os vencedores forem coroados, serão campeões do Grand Slam tão válidos e meritórios quanto os seus antecedentes.
A edição de 2020 destaca-se por uma lista de ausentes bem à imagem do que aconteceu até ao final dos anos 80, uma época em que várias estrelas abdicavam da longa viagem transoceânica e o Australian Open, por consequente, não tinha o mesmo prestígio que os seus pares. Jogado em datas “inconvenientes” — era o último dos quatro Majors a acontecer e sempre entre novembro e dezembro, muitas vezes rondando a época natalícia — até 1985, o torneio australiano começou, no ano seguinte, a trilhar um caminho que lhe permitiu recuperar terreno e importância.
Roland Garros e Wimbledon (ainda que em menor escala, por ser desde o início considerado “a jóia da coroa”) não foram exceções e em determinados momentos também contaram com elencos desfalcados: em 1968, o evento francês marcou o arranque da Era Open e sofreu com protestos e greves que quase levaram ao seu cancelamento; e nos anos seguintes viu várias das estrelas da altura optarem pelo World Team Tennis (a liga fundada por Billie Jean King). Em Londres, o maior susto aconteceu em 1973, quando vários jogadores se mostraram solidários com Niki Pilic (jugoslavo que recusou disputar uma eliminatória da Taça Davis pelo seu país devido a um conflito de calendário e acabou suspenso dos Grand Slams por nove meses) e não foram a jogo. Ao todo, 81 dos melhores jogadores do mundo não pisaram a relva do All England Club, incluindo John Newcombe e Stan Smith, campeões nos dois anos anteriores.
Desde então, têm sido raríssimas as ocasiões em que tenistas sem problemas físicos ou pessoais abdicam de participar num torneio do Grand Slam — os circuitos profissionalizaram-se, os prémios cresceram de ano para ano e o prestígio explodiu, tornando-se finalmente universal o conceito de “os quatro maiores torneios do mundo”.
Até que a pandemia chegou e colocou tudo do avesso. Neste US Open, que só acontecerá porque a associação norte-americana de ténis (USTA) trabalhou afincadamente com as autoridades de saúde locais e nacionais para fazer o que parecia impossível (Nova Iorque e os EUA foram e continuam a ser, respetivamente, das cidades e dos países mais afetados pelo coronavírus), 11 homens (Rafael Nadal, Roger Federer, Gael Monfils, Fabio Fognini, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Nick Kyrgios, Jo-Wilfried Tsonga, Fernando Verdasco, Lucas Pouille e Pierre-Hugues Herbert) e 23 mulheres (Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens, Belinda Bencic, Qiang Wang, Anastasia Pavlyuchenkova, Barbora Strycova, Svetlana Kuznetsova, Saisai Zheng, Julia Goerges, Jelena Ostapenko, Fiona Ferro, Polona Hercog, Hsieh Su-Wei, Carla Suárez Navarro, Tamara Zidansek, Lin Zhu, Anastasia Potapova, Andrea Petkovic, Ana Bogdan e Samantha Stosur) dos respetivos top 100 mundiais não irão a jogo. Desses, 31 tomaram a decisão com base na situação pandémica.
Nadal (por opção) e Federer (a recuperar de duas operações) são os grandes ausentes no quadro masculino (Wawrinka, também por opção, é o outro campeão de Grand Slams a ficar de fora) e fazem deste o primeiro torneio do Grand Slam no século XXI a não contar nem com um, nem com o outro. Mas esta não é a primeira vez que um dos maiores torneios do calendário começa sem a presença de dois dos Big Four: há três anos, também em Nova Iorque, nem Novak Djokovic, nem Andy Murray, lesionados, foram a jogo — e não foi por isso que o campeão teve menos mérito.
No quadro feminino há o dobro (seis) de ausências entre o top 10, entre elas a número 1 Barty, a número 2 Halep e a campeã em título e atual número 6 Andreescu, a única do trio a ficar de fora por lesão. Tudo indica que a imprevisibilidade dos últimos anos será reforçada e nem a fan-favorite Serena Williams, nem a cada vez mais popular Naomi Osaka (duas das nove campeãs de Grand Slams que vão a jogo ao longo da próxima quinzena) têm o sucesso assegurado.
Claro que o contexto deste US Open será totalmente diferente dos torneios do Grand Slam das últimas décadas e é bem provável que várias eliminatórias surpreendam nos frente-a-frente reais em comparação com os que se antevêem, mas estes são precisamente alguns dos novos desafios que fazem desta edição tão entusiasmante e, para quem a vencer, tão meritória.
Para chegar à glória na Big Apple, os jogadores terão de sobreviver ao stress extra relacionado com a vida na “bolha”, à ausência de interações com o exterior (estão todos limitados ao complexo de Flushing Meadows e ao hotel/residências oficiais e quem a furar será desqualificado) e a uma série de novos hábitos dentro do court, desde a ausência de público às equipas técnicas reduzidas — no caso dos que viajam com grandes entourages, claro está —, não esquecendo, no caso do torneio masculino, um regresso à competição à melhor de cinco sets (e as exigências que o formato traz) pela primeira vez em mais de seis meses.
Se os títulos de Guillermo Vilas (que venceu a única de quatro finais disputadas em Roland Garros em 1977, quando a super-estrela Bjorn Borg não apareceu em Paris porque tinha contrato com a WTT), Jan Kodes (que entre tantas ausências triunfou em Wimbledon 1973) ou Marion Bartoli (que não enfrentou uma única top 30 a caminho da glória na relva britânica em 2013) não foram assombrados por asteriscos (nem faria sentido de outra forma), colocá-los nos futuros campeões de 2020 é mesmo um não assunto — trate-se de mais uma vitória de Novak Djokovic, do tão aguardado e histórico 24.º troféu de Serena Williams ou da coroação de novos campeões.